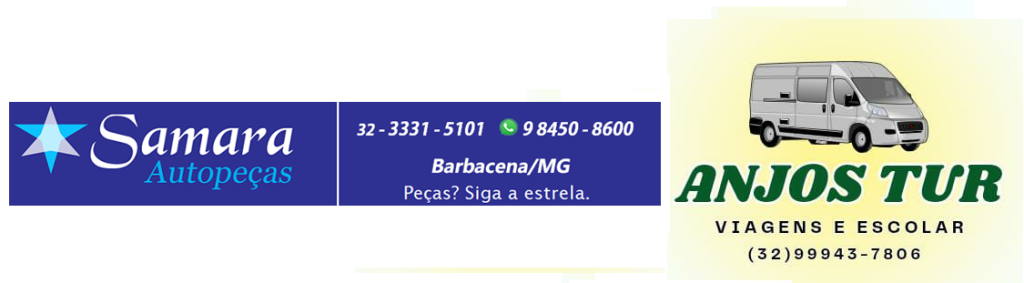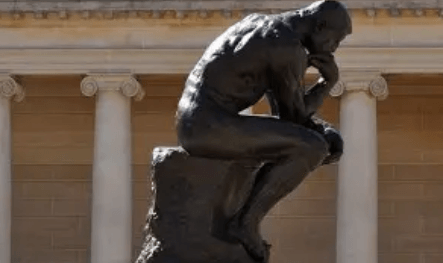Samuel Braga Rocha de Paiva, Bacharel em história pela UFMG, pós em licenciatura na área de história e mestre em cultura e identidade pela UFSJ, com orientação de Dr. Delton Mendes Francelino, Diretor da Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena, Coordenador do Centro de Estudos em Ecologia, Saúde Pública e Mudanças Climáticas e Diretor do Instituto Curupira
Vivemos num mundo no qual a distância, seja geográfica, cultural ou emocional, atua como anestésico moral. Quando a dor do outro está longe, é muito mais fácil ignorá-la. Afinal, quem já sentiu inveja ou culpa por alguém que viveu séculos atrás ou que talvez nem tenha nascido? Essa é uma questão antiga na filosofia moral: até que ponto somos capazes de cultivar empatia por aqueles que não conhecemos, seja pela distância temporal ou geográfica? O reconhecimento do outro como sujeito de direitos, dores e dignidade parece diluir-se à medida que essas distâncias aumentam.
O ensaio de Carlo Ginzburg, Matar um mandarim chinês, retoma uma questão já explorada por iluministas como Diderot, ao nos levar a refletir por que a consciência se sente muito menos aflita ao obter um grande benefício consentindo na morte remota de um desconhecido do que ao cometer o mesmo ato com as próprias mãos. O cerne da reflexão é que a experiência sensorial atua como um poderoso freio moral; a distância da ação torna nosso juízo ético mais poroso. Trata-se de um problema especialmente pertinente à modernidade tardia, em que tantas de nossas ações se reduzem a um clique de botão. Como manter a integridade do juízo moral quando não somos forçados a digerir as consequências de nossos atos de forma direta e palpável?
Essa questão ética também está no cerne do Dilema do Bonde, um experimento que contrasta duas abordagens fundamentais da moral: o utilitarismo, que avalia as ações por suas consequências, e a deontologia kantiana, que se baseia em princípios e deveres universais. Na versão clássica, um bonde desgovernado está prestes a atropelar cinco pessoas, e a única forma de salvá-las é puxar uma alavanca que o desvia para outro trilho, onde morrerá apenas uma pessoa. A resposta utilitarista favorece puxar a alavanca, pois maximiza o número de vidas preservadas. Mas quando a situação muda, exigindo que alguém empurre uma pessoa de uma ponte para deter o bonde, muitos que antes aceitavam o sacrifício de um rejeitam essa alternativa. Essa mudança revela uma inclinação deontológica, segundo a qual “sujar as mãos” é moralmente inadmissível, ainda que o resultado prático seja idêntico. O detalhe da forma da ação, puxar uma alavanca ou empurrar alguém, já basta para alterar a decisão, evidenciando o conflito entre a racionalidade consequencialista e intuições morais mais profundas. O problema não é apenas o cálculo das vidas, mas o modo como o sujeito experiencia sua própria implicação no ato. É a materialidade do gesto, e a consciência de algum grau de proximidade com a vítima, que reinstaura a dimensão ética.
O mesmo dilema ressurge em Crime e Castigo (1866), de Dostoievski. Nessa obra, Raskólnikov, o protagonista, mata uma velha agiota com a justificativa de que ela era uma pessoa inútil e exploradora, e que sua morte permitiria, em tese, fazer o bem a muitas outras, inclusive a si mesmo, que poderia usar o dinheiro para estudar, cumprir seu destino e beneficiar outras pessoas. Ou seja, ele tenta justificar o assassinato com base em uma lógica utilitarista, o mesmo tipo de cálculo moral que está por trás do dilema do bonde: “sacrificar um para beneficiar muitos”. No entanto, o que acontece com ele após o crime revela os limites dessa lógica quando confrontada com a experiência humana direta. O protagonista teme ser preso, e, portanto, há o receio do julgamento alheio. Contudo, é a culpa interna, agravada pelo assassinato de uma vítima inocente, a irmã da agiota, que aprofunda seu abismo emocional. O plano racional desmorona diante da complexidade real dos fatos. Além disso, Raskólnikov queria provar a si mesmo que era capaz de ultrapassar o bem e o mal, de agir como um ser superior. Quando falha em sustentar essa imagem, a culpa emerge também como uma falência existencial.
O sofrimento de Raskólnikov ganha em sentido quando refletimos sobre o contexto cultural em que Dostoievski escreve: uma Rússia do século XIX atravessada pela tensão entre a tradição ortodoxa cristã, que estruturava a noção de pecado, expiação e redenção, e as novas correntes intelectuais vindas da Europa, marcadas pelo racionalismo, pelo utilitarismo e pelo pragmatismo moral iluminista. O dilema de Raskólnikov nasce justamente desse embate: de um lado, a tentativa de justificar o assassinato em nome de um cálculo racional de utilidade, e de outro, a impossibilidade de escapar a uma consciência moldada por séculos de cultura cristã. Contudo, é interessante observar que há um refinamento por parte do autor, que desloca o debate sobre o pecado e a culpa da esfera teológica para o campo da interioridade psicológica. Os aspectos sintomáticos que atravessam o corpo do personagem representam um ganho de perspectiva justamente porque não se restringem a um vocabulário teológico, mas refletem os processos psicológicos pelos quais a culpa se instala na consciência do sujeito.
Esse esforço secular de apagamento da culpa pela técnica encontra talvez seu exemplo mais trágico na experiência do nazismo. Aqui, a técnica não se limita a um conjunto de instrumentos ou procedimentos, mas, como sugeriu Heidegger, a um modo de relação com o ser: um modo que transforma o mundo e o próprio homem em recursos disponíveis, calculáveis, administráveis. Se em Crime e castigo a culpa ainda operava como drama interior, no século XX ela se dissolveu nas estruturas. O regime nazista mostrou como a indiferença pode ser institucionalizada: cada funcionário, cada oficial, cada engrenagem da máquina de Estado cumpria ordens, registrava dados, transportava pessoas, sem se sentir diretamente responsável pelo resultado final, o extermínio em massa. Nesse sistema, o mal não precisava de ódio intencional; bastava a obediência automática, a repetição de gestos administrativos que anestesiavam a consciência individual. Hannah Arendt chamou isso de banalidade do mal, a constatação de que o crime mais monstruoso pode ser cometido sem paixão, apenas pela lógica funcional de uma engrenagem.
No século XIX, ainda era a consciência cristã que pesava sobre o indivíduo, impondo freios morais como os que dilaceram Raskólnikov em Crime e Castigo. No entanto, o que aparecia como drama interior em Dostoievski, no século XX se converteu em indiferença organizada, levada a proporções genocidas nunca antes vistas. A morte distante, que no Iluminismo surgia apenas como exercício imaginativo, “e se a morte de um mandarim chinês me beneficiasse?”, tornou-se realidade concreta com o aparato técnico-militar do nazismo, capaz de transformar cálculos abstratos em destruição sistêmica. Mas, mesmo nessa racionalidade extrema, a culpa não foi abolida, apenas deslocada para o coletivo. As consciências individuais se diluíram na máquina, mas o peso moral reaparece na memória histórica e no testemunho. A culpa, reprimida, retorna como lembrança e trauma, como se o próprio tempo cobrasse o que os sujeitos tentaram esquecer.
Hoje, o risco é que a indiferença, agora intensificada pela velocidade e pelo alcance global das redes, produza um mal tão banal quanto eficiente, em que a responsabilidade se dilua e a moral não encontre articulação nesse novo ecossistema. A diferença é que agora o olhar é simultâneo, onipresente: vemos tudo, mas sentimos pouco. A distância e a proximidade se confundem, como se estivéssemos diante de um paradoxo moral do nosso tempo.
Se antes a distância era o anestésico moral que nos permitia ignorar o outro, hoje ela se mescla à falsa proximidade das imagens e conexões instantâneas. O desafio ético permanece o mesmo: reaprender a responder pela vida que não tocamos. Talvez seja nessa oscilação entre ver e sentir, entre presença e ausência, que a filosofia contemporânea reencontre o ponto mais sensível do humano, o chamado silencioso do rosto que nos pede responsabilidade, mesmo quando o vemos apenas à distância.
——
Para contato com a Casa da Ciência e da Cultura, basta enviar mensagem via whatsapp: (32) 98451 9914, ou Instagram: @casadacienciaedacultura/ @delton.mendes. O site é: www.casadacienciaedacultura.com.br.
Apoio Divulgação Científica: Samara Autopeças e Anjos Tur – Turismo e escolares.